Setembro, 2020 - Edição 259
Reflexões sobre a arte da escrita
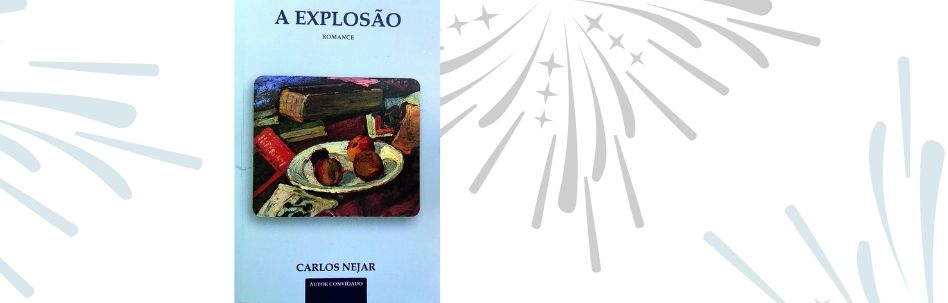
A busca do divino em Trívia de Marco Lucchesi.
Um dos pais da Igreja, São Efraim (ou Efrém, o sírio), que viveu
entre 300 a 373 no que hoje conhecemos como Turquia, em algum
momento de sua busca espiritual, chegou à conclusão de que é impossível e contrário à limitada razão do ser humano querer definir Deus.
A partir dessa constatação, ao lado do estudo e da meditação sobre os
dogmas da fé, ele começou a se dedicar ao desenvolvimento de uma
teologia que se ancorasse na arte poética. Ao ler o livro Trívia (Editora
Patuá, 2019, 180 p.), de Marco Lucchesi, tenho a forte impressão de que
a obra segue um caminho similar, ao permitir que o ethos do misticismo ocidental esteja amplamente presente em seus textos (que aqui
chamarei de poemas), e uma vez que vejo neles uma tentativa, a partir
da literatura, de se vislumbrar a face de Deus, assim como São Efraim
buscou em sua obra.
Do mesmo modo que muitos dos poemas de São Efraim, os de
Marco Lucchesi em Trívia têm estrutura curta, entre uma e seis linhas,
possibilitando uma tessitura de movimentos rápidos, mas precisamente
calculados e encaixados. Se considerarmos que uma das grandezas da
arte poética é o agrupamento de uma enorme gama de significados em
uma composição breve, perceberemos que os poemas de Trívia são
ricos dessa qualidade de síntese.
As referências que Marco convida para o seu texto caminham na
mesma direção da mística que evoca, uma vez que são, em sua maioria,
associadas à busca pelo divino, e mesmo aquelas que não se relacionam
diretamente com essa empreitada acabam a ela se prostrando: Safo (630
a.C. - 604 a.C.), Dante (1265-1321), Shakespeare (1564-1616), Goethe
(1749-1832), Hölderlin (1770-1849), Frege (1848-1925) etc. São muitos
os acompanhantes de percurso que Lucchesi elege. Indubitavelmente,
o leitor dedicado irá se regozijar com esses convidados e com a viagem
proporcionada pelo livro, mas não devemos nos esquecer de que nunca
é fácil buscar desvelar o incognoscível. O primeiro mistério já nos é
apresentado pelo título. A qual dos múltiplos sentidos da palavra “trívia” o autor deseja nos indicar, será que a todos eles? A minha primeira
clave de leitura foi pensar no termo inglês trivialities, de onde herdamos
a noção da palavra com o sentido de curiosidades ou informações de
pouca importância. Ora, a obra de Lucchesi pode ter muitos adjetivos,
mas não se encaixa no sentido de “trivial”, “coisa menor” ou “vulgaridade” que o vocábulo anglo-saxão carrega. Uma obra que almeja aproximar-se de Deus pode ser tudo, menos banal. É nesse momento que percebo que a palavra me soa como sendo de origem latina e o dicionário
Dicio da língua portuguesa me confirma a suspeita, lembrando-me de
que o vocábulo também pode ser utilizado para definir o local exato em
que três ruas ou três caminhos se encontram. Penso que, por extensão,
a partir de “trívia”, podemos ter chegado a um dos usos contemporâneos
do vocábulo “trevo”. Ou seja, estamos mesmo em uma encruzilhada em
que somos tentados a percorrer todos os caminhos que Lucchesi nos
apresenta.
O subtítulo “diário filosófico” parece nos indicar uma pista (elusiva?). Será que podemos ler os textos do livro como recortes que se
referem às reflexões filosóficas do próprio autor em sua jornada pessoal?
Decido que prefiro ler o livro sem reminiscências biográficas. Atenhome às referências internas da obra, que me indicam que a filosofia
também pode ser um dos instrumentos da busca do sagrado. No centro de alguns dos referenciais que a iluminam, encontro Jacob Böhme
(1575-1624) e Angelus Silesius (1624-1677). O primeiro desenvolveu
uma obra que até hoje influencia o misticismo ocidental de base cristã (veja-se, principalmente,
mas não somente, a via
cardíaca de Saint Martin
(1743-1803) e o segundo
foi cultor de uma poética igualmente mística
como a de São Efraim,
mas marcada pela tensão
com o protestantismo
de seu tempo. A obra de
ambos influenciou profundamente alguns dos
percursos que a literatura alemã percorreria nos séculos seguintes,
tanto o é que encontramos o seu alcance em Goethe, Novalis (1772-
1801), Hölderlin, dentre outros, também evocados por Lucchesi em Trívia.
A obra, embora possa ser lida como estando unida pelo desejo de vislumbre do verbo divino, é dividida em quinze partes, cada uma delas
englobando um corpo temático, por assim dizer.
A leitura a seguir é pessoal e parcial, mas enumero assim os degraus da escada (de Jacó) em que
se divide o livro de Lucchesi: o primeiro aborda
justamente o fragmento e a sua articulação com
a unidade; o segundo, o sono e o que guardamos dele na vigília; o terceiro, a fenomenologia
da insônia; o quarto, as tensões do ato de traduzir, em que a cabala e
a alquimia são algumas das imagens arquetípicas evocadas; o quinto
degrau nos apresenta o Eros conduzido por Safo; no sexto degrau, a poética mística de Silesius parece alinhavar o pensamento alemão em uma
catedral de translúcida beleza; no sétimo degrau, o autor reflete sobre
a musa Clio, ou a História, vista como uma poesia em escala ampla;
no oitavo degrau, as linguagens da matemática e da língua falada se
amalgamam nas reflexões de Frege; no nono, intitulado a propósito de
“nona sinfonia”, prevalecem as meditações sobre música em algumas de
suas mais elevadas inflexões; no décimo, a interpretação, a metáfora e a
matemática se unem na tentativa de apreensão do infinito; no décimo
primeiro, a função, a matemática e a lógica aparecem atravessando o
ser em sua busca; no décimo segundo degrau, a poesia e a matemática
se unem na composição da significação do mundo; no décimo terceiro,
o pensamento ocidental se encontra com o oriental; no décimo quarto,
os textos evocam uma teologia das religiões ecumênica, em que um
Deus babélico se encontra em seu centro, e, por fim, no décimo quinto
degrau, a distância aparece como força propulsora da busca do divino.
Ao terminarmos o livro de Lucchesi, somos deixados com um
poema que pergunta se ainda temos tempo de “salvar Deus para Deus”.
Interpreto essa última frase como um chamamento para o despertar do
Deus que está em nós, que, feitos à Sua imagem e semelhança, precisamos, no entanto, empreender um razoável esforço para retornarmos
à Sua casa e fazermos resplandecer a Sua luz em nós. Nada é simples
na busca proposta por Trívia, como São Efraim nos pergunta (Hinos
sobre a fé I,16), “Como pode o servo, que não conhece propriamente a
si mesmo / meditar sobre a natureza de seu Criador?”.
Esta é apenas uma das muitas interpretações que possamos fazer
da obra de Lucchesi. Independentemente de nos alinharmos ou não a
uma leitura mística do livro, tenho certeza de que o leitor de coração
aberto se deleitará com um dos elementos centrais que ele proporciona:
uma profunda jornada pelo pensamento literário, filosófico e científico
do ocidente (com passagens também pelo oriente) e, obviamente, com
o muito que deixei de dizer aqui e que os leitores descobrirão por si
mesmos. Ao terminarmos o livro, ficamos com a impressão de que a viagem valeu a pena, mesmo que o vislumbre da face do divino ainda seja
uma tarefa impossível ao nosso espírito limitado, há algo nos caminhos
de Trívia que pode nos engrandecer como seres humanos. Tudo, no
entanto, depende dos caminhos que decidamos empreender em nossas
próprias jornadas.